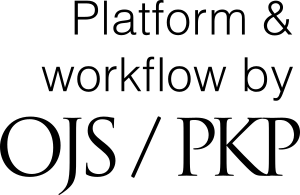Introdução ao Dossiê Evolução Biocultural
Resumo
O estudo da evolução biocultural não é recente, tendo ocupado um lugar na reflexão dos demais teóricos da história ao longo de centenas de anos. Todavia, as primeiras teorias científicas a relacionar a biologia e a cultura têm pouco mais de 150 anos à data. Vale a pena enveredar por uma breve introdução histórica ao panorama científico do estudo da evolução biocultural para melhor compreendermos o enquadramento das peças incluídas nesta colectânea de ensaios.
Ora, como seria expectável, o contexto que congeminou a sua emergência é sumamente partilhado com aquele da emergência da teoria evolutiva, no qual se insere. No pano de fundo encontramos então até contributos do estudo da história geológica terrestre, como o uniformitarismo de James Hutton e Charles Lyell, assim como as teorias de evolução social, como a malthusiana, combinadas com o fascínio da época pelas teorias e filosofia da história, muito motivado pelas rápidas transformações culturais que marcaram a revolução industrial e que levaram à teorização de novas ideias de progresso civilizacional (sendo as mais conhecidas hoje atribuíveis ao trabalho de Karl Marx & Friederich Engels).
De facto, por esta altura, no trabalho de teóricos da evolução como Herbert Spencer, vingava um conceito de cultura que encontra o seu expoente na obra Cultura e Anarquia, de 1869, da autoria de Matthew Arnold. A cultura, de acordo com estes, tinha estágios. No ideário de muitos, o seu estágio mais elevado deixava-se ainda capturar pela expressão específica das artes e intelectualidade ocidentais. Este conceito, por sua vez, encontra uma crítica apta já em 1871, com a publicação de Cultura Primitiva, de Edward B. Tylor. Tylor argumentou em favor do abandono do conceito Arnoldiano de cultura e pela adopção de um conceito menos restrito e mais afim ao significado não-avaliativo em jogo na antropologia moderna, que açambarca (quase) todos os aspectos da vida social humana.
No início do século XIX, prosperavam então teorias científicas (e também pseudo-científicas) da história, muitas delas com vista a explicar a história natural. Estas ideias e forças motrizes do desenvolvimento social no seio da comunidade vitoriana ajudam a desmistificar o surgimento da teoria da evolução por selecção natural em meados de 1858 (nos trabalhos de Darwin, 1858, 1859; Wallace, 1858). Os pilares ancilares desta teoria tiveram uma influência profunda no estudo da biologia, e o estudo da natureza humana, claro está, não foi uma excepção. Antes do final do século já proliferavam tentativas de aplicação da teoria darwiniana ao estudo do comportamento humano, assim como outras, de matiz lamarckista, caracterizadas pela sua ênfase num mecanismo de herança de características adquiridas. Acompanhado ao desenvolvimento da antropologia e da arqueologia, à época afirmavam-se teorias como as designadas “eugénicas”, o “darwinismo social”, entre outras.
São conhecidas muitas tragédias que alguns teóricos ignóbeis alimentaram e tentaram justificar com base em algumas das ideias que viemos a associar a estas escolas de pensamento. Estamos agora a falar de um período negro da história do pensamento biocultural. Mas é importante salientar que, hoje em dia, quando falamos de evolução biocultural, não é tanto nas ideias associadas a este período que pensamos. A sombra deste período oculta até muita actividade relacionada com a evolução biocultural que não é igualmente meritória da nossa repudia. O trabalho de Darwin (mas não só) foi crucial para o desenvolvimento da antropologia biológica e cultural nas mãos de indivíduos como Franz Boas, Alfred Kroeber e Margaret Mead – para mencionar apenas alguns. É inclusive a Kroeber (1948) que devemos a primeira representação pictórica e metafórica da filogenia cultural, que serviu também como motivo para o logotipo da Sociedade de Evolução Biocultural e da capa deste volume. Kroeber apresentou-nos “A árvore do conhecimento do bem e do mal – isto é, da cultura humana”, uma árvore cujos diferentes ramos se interlaçam, ilustrando com isto a reticulação da evolução cultural.
Todavia, quando falamos de evolução biocultural, temos sobretudo em mente um conjunto de ideias que se tornaram possíveis somente com um outro período da história científica que culminou, pelo final da década de 40, já no século XX, com a chamada “Síntese Moderna” da biologia (assim denominada por Julian Huxley [1942] num livro com o mesmo nome). A Síntese Moderna corresponde à unificação da genética mendeliana e da biologia populacional sob o enquadramento teórico do mecanismo de selecção natural. A emergência deste novo “paradigma” transdisciplinar frequentemente designado de neo-darwiniano reflecte a maturação da biologia enquanto disciplina. Aliado ao progresso no estudo do desenvolvimento biológico, veio-se a entender que muitas das ideias afins ao darwinismo social e às teorias eugénicas não têm cabimento. Simultaneamente, e em larga medida devido à precisão dos modelos formais que se vinham a desenvolver, os teóricos da evolução humana aperceberam-se que muitas (ainda que não todas) das suas facetas culturais propriamente ditas careciam de uma fundamentação biológica à data.
De facto, foi somente no período subsequente, decorrente entre o início da década de 30 e meados de 70, que se desenvolveram os primeiros modelos formais da teoria da evolução social que vieram a reformar o estudo empírico da evolução de fenómenos do foro sociocultural (e.g., Hamilton, 1964a, 1964b; Trivers, 1971). É nestes anos que surgem as primeiras explicações formais de fenómenos que ainda hoje estão envoltos de dúvidas, de que são exemplo a evolução da coordenação e da cooperação. Consequentemente, é também nesta época que surgem as primeiras tentativas de formalizar a evolução da moral, que já à época de Darwin se pensava melhor explicar como um produto da evolução social (veja-se, a este título, o quinto capítulo d’A Descendência do Homem, de 1871). Neste contexto, importa mencionar a hipótese central da teoria darwiniana da moral, dominante desde então entre os demais cientistas da ética, segundo a qual a moral evoluiu, pelo menos parcialmente, a partir de sentimentos de simpatia/empatia ou pró-sociais que são omnipresentes entre os primatas e em muitas outras espécies. Noutras palavras, a moral evoluiu por selecção natural devido a promover a coordenação e a cooperação.
Estes mesmos desenvolvimentos formais despoletaram também desenvolvimentos teóricos no estudo da evolução cultural (de facto, comum àquilo que diferentes teóricos chamam de cultura existe sempre um fundamento social). Há, pois, três trabalhos que merecem especial destaque neste contexto (sem querer com isto desacreditar outras contribuições coetâneas). O ensaio de Donald T. Campbell, «Variação cega e retenção selectiva no pensamento creativo e noutros processos de conhecimento», de 1960, seguido anos mais tarde pela publicação do livro Sociobiologia: A Nova Síntese, de E.O. Wilson, em 1975, e, já em 1981, a publicação de Transmissão Cultural e Evolução, de L.L. Cavalli-Sforza e Marcus Feldman. Foi com estes ensaios que o estudo da evolução sociocultural ganhou um novo ímpeto de respeito e autonomia, tendo desde então vindo a acelerar-se progressivamente e consistentemente. Hoje em dia, os modelos de evolução social são até empregues no estudo da evolução biológica, tendo-se tornado indispensáveis para a nossa compreensão da evolução de cromossomas, das células eucarióticas, do fenómeno da multicelularidade, e dos chamados “superorganismos” (incluindo, por exemplo, algumas colónias de insectos), e ainda doutros colectivos biológicos (Okasha, 2024; cf. ainda Rainey et al., 2014). De facto, o estudo da evolução biológica tornou-se indissociável do estudo da evolução social, mas em nenhum momento se deixou de perguntar como é que a evolução social, a cultural, e a moral, se relaciona com a nossa biologia. Encontram-se muitas respostas na literatura.
A longa agenda de investigação acerca da evolução cultural e da sua relação com a biologia não pode ser aqui extensamente discutida. No entanto, gostaríamos de mencionar alguns dos temas chave deste campo com o intuito de contribuir para a contextualização dos ensaios que introduziremos abaixo. Neste sentido, é relevante mencionar a questão central da relação entre a transmissão cultural e a aptidão biológica. São inúmeros os exemplos de variantes culturais que são transmitidas e inclusive aumentam em representação ao longo do tempo nas populações apesar de serem, pelo menos ao nível da perspectiva individual e da aptidão biológica, estritamente mal-adaptativas (Baravalle, 2012). Muita tinta que se discorreu sobre este tema, de um modo ou doutro, prende-se com esta questão fundamental da teoria, à qual se deram várias respostas. Outro tema clássico diz respeito à natureza das unidades de evolução cultural. Contrariamente àquilo que acontece com os genes, e apesar da palavra sugestiva “meme” (Dawkins, 1976) para designar uma unidade de evolução cultural, é sabido que a maioria das expressões culturais (se não todas) não se deixam identificar por unidades discretas, facilmente individuáveis, que se multiplicam ou replicam (Abrantes, 2023). Este tema surge, por exemplo, na contribuição de Mercedes Okumura e Astolfo Araujo para esta colecção. Também o nível de fidelidade da transmissão cultural é frequentemente distinto daquele que a síntese moderna nos ensinou a esperar quando se trata de genes (Buskell, 2017). Mais concretamente, enquanto, ao nível individual, a transmissão genética tende a ser altamente fidedigna (apesar das mutações e da deriva genética), na transmissão cultural a fidelidade elevada tende a ser uma expressão da aprendizagem que emerge mais claramente ao nível de grupo, enquanto indivíduos em si são frequentemente pouco fiáveis (Boyd & Richerson, 1985). Já este tema surge no ensaio de Fábio Portela para esta colecção.
Para além destes tópicos que se prendem com aspectos gerais da teoria da evolução cultural, seus elos, e distinção face à teoria da evolução biológica, os investigadores têm-se perguntado acerca da capacidade dos animais não-humanos para a evolução cultural cumulativa, sobre a possibilidade de desenvolvimento de modelos filogenéticos para a tecnologia ou, mais geralmente, para a cultura, entre outras perguntas. No que toca o estudo da evolução biocultural da moral, têm sido prementes perguntas acerca das adaptações morais humanas, de que é exemplo o tribalismo e o paroquialismo das nossas disposições (Pisor & Ross, 2024), se estas podem constituir alguns desafios a propostas da filosofia política (por exemplo, ao liberalismo ou ao conservadorismo) (Buchanan & Powell, 2018); mas também perguntas acerca da relevância de modelos da evolução da cooperação (de quem são exemplo modelos da teoria do jogo evolucionária) para questões de ética de primeira ordem (e.g., McKenzie Alexander, 2007); enfim, até perguntas acerca da relevância das teorias da evolução da moral para questões de metaética (e.g., Joyce, 2006), entre muitas outras.
São inúmeras as tentativas de explicar e compreender evolutivamente todo o tipo de fenómenos culturais e morais do nosso quotidiano. Parte do fascínio do estudo da evolução biocultural deve-se ao seu grande potencial explanatório (todavia, veja-se Chellappoo 2022), e, em particular, do seu escopo abrangente (independentemente da questão da completude destas explicações) – a selecção natural é um “ácido universal”, como disse Daniel Dennett (1995). Recentemente, fala-se até do seu potencial de aplicação prático. Parafraseando Joseph Henrich (2024, p. 129), é inevitável que, no processo de pensar as políticas públicas e desenvolvimento, adoptemos determinados pressupostos acerca da natureza humana, ainda que o possamos fazer tacitamente e sem dar conta. Mas tanto quanto a teoria da evolução cultural nos permite melhor compreender a natureza humana, é expectável que ela nos permita analisar, criticar, e contribuir também positivamente para revelar esses pressupostos. Mas há também um interesse crescente no enquadramento teórico das políticas publicas no seio da teoria de evolução cultural com a promessa de que esta teoria poderá ultrapassar alguns desafios inerentes às abordagens comportamentais mais clássicas (Schimmelpfennig & Muthukrishna, 2023; e.g., Hodgson & Knudsen, 2010, Henrich et al., 2012; Wilson et al.; 2023).
Por fim, gostaria de terminar este enquadramento histórico com uma breve nota terminológica relativa ao porquê de evolução “biocultural” ao invés de “cultural” ou “biossocial”, que são talvez até mais utilizados. Ora, a decisão prende-se unicamente com o fito de reflectir interesses e ênfases específicas, compreendendo-se melhor por contraste com outros termos que se encontram na literatura. Assim, evitámos o termo “sociobiologia”, pelo qual E.O. Wilson designou o “estudo sistemático da base biológica de todo o comportamento social” (1975, p. 4), mas também os termos “ecologia comportamental” (e.g., Borgerhoff Mulder, 1991), afim a uma etologia adaptacionista, e ainda o termo “psicologia evolutiva” (e.g., Cosmides & Tooby, 1987) e os termos “teoria da dupla herança” e “coevolução gene-cultura” (e.g., Richerson & Boyd 2005) devido às suas associações com abordagens específicas (vide Laland & Brown, 2011; Driscoll, 2022). Mas é verdade que todos estes termos reflectem interdependências entre a cultura e a biologia, captando parte das temáticas que nos interessam. Alguns destes termos pecam por excluir abordagens que não partilham o mesmo enquadramento formal e teórico, sobretudo reflexões de âmbito mais generalista ou englobantes. Interessa-nos, pois, não nos restringir aos aspectos propriamente genéticos da biologia, mas deixar espaço para uma ênfase sobre os aspectos não-genéticos, incluindo aqui aspectos chave do desenvolvimento e da ecologia. De resto, o termo “biocultural” deixa claro um interesse por aspectos sociais que mais comummente designamos por cultura, ainda que não queiramos excluir os contributos das teorias da evolução social para além do estudo da cultura cumulativa. Com este termo, os assuntos humanos tornam-se centrais, mas não descuramos a possibilidade da evolução cultural e até mesmo cumulativa em espécies não-humanas .
AS CONTRIBUIÇÕES PARA ESTE DOSSIÊ
Os sete ensaios que se seguem contribuem com reflexões originais para o estudo da evolução biocultural. Pelo menos cinco deles debruçam-se explicitamente sobre debates acerca da moral e da política, que serviram de tema principal para o primeiro encontro da Sociedade de Evolução Biocultural, pelas razões acima mencionadas. Mas apesar de alguma confluência nos temas específicos das contribuições, é importante realçar que os contribuidores são eles próprios provenientes de diferentes disciplinas. Esta situação é não só expectável como epistemicamente desejável dada a natureza heterogénea dos fenómenos que se reúnem sob a alçada deste título abrangente. Neste sentido, gostaria de invocar as palavras de André Levy & Vítor C. Almada, que bem capturaram a natureza interdisciplinar do estudo da evolução biocultural, assim como a índole controversa de muitos trabalhos que poderemos esperar numa colecção deste tipo:
(U)m problema que limita os nossos esforços para articular abordagens biológicas e sociais resulta de pesadas limitações, que cada investigador frequentemente ignora, sobre aspectos básicos das outras disciplinas, um fosso particularmente profundo entre investigadores das ciências humanas e naturais. Acresce que o grau de maturação de diferentes áreas de estudo é normalmente muito desigual, de modo que o sonho de um saber interdisciplinar que flui harmoniosamente do diálogo entre áreas de investigação é uma utopia. Mais uma vez, a solução não está em grandes visões doutrinárias e que se pretendem universais e acabadas, mas numa dinâmica de sínteses que se tornam obsoletas pouco depois de nascerem, de confrontos de pontos de vista, de uma dialéctica constante com os seus inevitáveis mal-entendidos, raciocínios abusivos, todos os ingredientes que dão vida à história dos conhecimentos e das sociedades (2015, p. 234).
O que une então os nossos autores é o facto de eles se encontrarem no estudo da natureza humana, tanto quanto este pode ser unificado ou, pelo menos, e mais modestamente, orientado ou integrado sob a tutela da teoria da selecção natural ou, de um modo ainda mais abrangente, sob a tutela da teoria evolutiva (que não é necessariamente darwiniana). A evolução é, pois, o tecido transdisciplinar que mantém juntas as contribuições para esta colectânea. Sem mais demoras, passo então a introduzir os diferentes artigos pela sua ordem de publicação.
Em «Além da Biologia: Teoria Evolutiva aplicada a Arqueologia e estudos de cultura material», Mercedes Okumura & Astolfo G. M. Araujo demonstram como a teoria evolutiva pode permear as demais ciências humanas, combinando a Arqueologia Evolutiva (conforme entendida pelo arqueólogo Robert Dunnell) e a teoria da transmissão cultural com vista a explicar os registos arqueológicos do Brasil no início do Holoceno, sendo a primeira vez que uma explicação deste tipo é aplicada ao leste da América do Sul. Este ensaio afigura-se assim como uma importante contribuição para o enquadramento do panorama arqueológico brasileiro no seio da teoria evolutiva. Conforme Okumura & Araujo argumentam, uma avaliação das várias hipóteses correntemente encontradas na literatura permite concluir que a melhor explicação para a preservação da variedade de grupos culturais demarcáveis a partir do registro arqueológico é dada pelas vantagens advindas da prevalência de mecanismos de transmissão culturais ditos conformistas e que vão para além da função imediata das ferramentas produzidas.
O ensaio de Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva é um exímio exemplo da integração de uma arqueologia da mente e de uma antropologia evolutiva e cognitiva. O autor pergunta-se, «A que corresponde, processual e evolutivamente, a ética?». A sua resposta passa por adoptar, operacionalmente, uma definição de ética bastante abrangente – a ética enquanto uma regra de conduta interpessoal e intracomunitária. Para explicar a nossa capacidade para pensar eticamente, de Sá-Nogueira Saraiva identifica vários mecanismos cognitivos que aparentam ser necessários a uma “gramática moral” (e quiçá, inclusive, conjuntamente suficientes). É com esta lista de mecanismos em mente que ele percorre então a arqueologia, do Olduvaico ao Paleolítico Superior, em procura de indícios que nos permitam explicar a sua história evolutiva no género humano. Por fim, o autor dedica-se a uma reflexão acerca de um tema corrente da literatura acerca da evolução da psicologia moral humana, nomeadamente as suas expressões ditas tribalistas (tão familiares em contextos de crescente polaridade política). Ele dá conta de várias características afins a todos os grupos humanos, de que são exemplo uma certa tendência para o conformismo, a detecção e punição de infractores, e emoções como a culpa e a vergonha, que alia depois a explicações evolutivas em termos da selecção de parentesco e selecção de grupo. Neste sentido, o ensaio contrasta bem com um relato por ventura mais optimista da evolução da psicologia normativa humana apresentado no ensaio de João Pinheiro, que introduziremos mais abaixo.
O artigo de Anuska I. de Alencar & Wallisen T. Hattori leva-nos a pensar nos «Fatores que interferem na cooperação de crianças em jogos dos bens públicos». Eles adoptam, pois, uma abordagem característica da psicologia evolutiva, adjuvada pelas metodologias clássicas da teoria dos jogos, para pensar a resposta à pergunta «Crianças, quando devemos cooperar?». Desde a sua incepção, que os modelos formais da teoria dos jogos têm contribuído para a nossa compreensão da evolução do comportamento social, e em particular das condições de possibilidade da cooperação e da coordenação. Todavia, o poder explicativo destes modelos matemáticos, ainda que por vezes analíticos, não se deixa antever na ausência de experimentos sociais que testem as suas previsões. Assim, Alencar & Hattori conduzem-nos por uma revisão da literatura acerca do desenvolvimento das nossas capacidades de raciocínio afins às previsões dos modelos. Eles focam-se em particular no chamado “Jogo dos bens públicos” e apresentam-nos alguns resultados de experimentos sociais com o fito de testar condições de controlo e, consequentemente, a robustez das previsões do modelo. Eles testam condições como o tamanho dos grupos, a presença ou ausência de monitoramento, feedback verbal, classe socioeconómica, entre outros, frequentemente identificados na literatura como relevantes para a evolução e estabilidade da cooperação. Os autores aproximam-nos assim de um melhor entendimento do desenvolvimento psicológico da nossa psicologia pró-social e de quanto é que ela se assemelha ou distingue dos modelos ideias da teoria de jogos, tipicamente tidos como racionais de acordo com a teoria da escolha.
Já João Pinheiro dá conta de desenvolvimentos recentes das ciências evolutivas aplicados ao estudo da natureza humana a par de debates vigentes na filosofia moral e política, deixando claro que há muito para ganhar com a sua reconexão. Pinheiro primeiramente introduz as recentes críticas “evo-conservadoras” ao projecto moral e político cosmopolita e, num segundo momento, apresenta-nos «Uma Reavaliação do Evo-conservadorismo à Luz da Hipótese da Interdependência». Conforme argumenta, a teoria evo-conservadora, na sua versão mais forte, é inadequada à evidência, e a única hipótese plausível disponível na actualidade para dar conta das inadequações da teoria é a chamada “hipótese da interdependência”, que tem sido desenvolvida no seio de diferentes áreas disciplinares, de que são exemplo a Antropologia Evolutiva, a Psicologia Evolutiva, e a Teoria da Evolução Cultural. Todavia, uma vez pesada a hipótese da interdependência, a crítica evo-conservadora perde a sua pujança, e no decurso desta exploração revelam-se algumas condições positivamente correlacionadas com a estabilidade de instituições cosmopolitas, que serão de sumo interesse para a realização do projecto cosmopolita.
O artigo de Fábio Portela discorre acerca da hipótese d’«O direito como adaptação evolutiva», avaliando-a tendo por base a caracterização específica desta hipótese conforme apresentada em detalhe no trabalho de Geoffrey Hodgson e Thorbjørn Knudsen. De acordo com Hodgson e Knudsen, a emergência do direito pode ser pensada à luz da figura teórica de uma “transição evolutiva”, conforme primeiramente teorizada por John Maynard Smith e Eörs Szathmáry e desenvolvida mais tarde por outros teóricos. O direito judicial é assim apresentado como uma transição informacional com o cariz específico de ter firmado normas por intermédio de mecanismos formais e instituições materiais. Portela oferece-nos «uma análise crítica a Hodgson & Knudsen», entendendo que estes estão comprometidos com um conceito inadequado de direito. No decorrer da sua análise crítica, Portela oferece-nos também algumas reflexões acerca do papel do direito na evolução de hierarquias sociais e, enquanto tal, na evolução de sociedades ditas complexas, como as contemporâneas, que apresentam inúmeros estratos sociais.
No seu artigo, «Uma análise do senso de simpatia darwinista durante a pandemia covid-19 à luz da teoria da evolução cultural», Deivide Garcia revisita a teoria da evolução biocultural de Darwin, demonstrando que, apesar de 150 anos de avanços científicos, ela continua relevante para a nossa compreensão de fenómenos mundanos. Em particular, Garcia sugere aplicar a teoria darwiniana da moral de modo a estender a nossa compreensão e análise de casos reais e ideais, focando-se para isso no estudo do impacto da pandemia COVID-19 no Brasil e em modelos de transmissão epidemiológicos. Conforme elucida, à luz da teoria de Darwin, não é de surpreender que num contexto de pandemia surjam inúmeros conflictos morais profundos entre subgrupos da população, o que, à luz da psiquiatria contemporânea, sabe-se contribuir para a deterioração da saúde mental.
Finalmente, o artigo de Thales M.M. Silva e coautores encerra o nosso volume com uma contribuição presentemente menos ortodoxa no que toca a abordagem que adopta ao estudo dos temas da evolução biocultural. Em particular, demonstra uma abordagem ao estudo da evolução biocultural não-estritamente darwiniana. Ao invés, Silva e colaboradores fazem um enquadramento de fenómenos sociais e culturais no seio da teoria da “inferência activa”, que concebe os organismos como modelos de minimização dos erros de predição. Em anos recentes, este enquadramento teórico tem-se tornado muito popular no estudo de uma miríade de fenómenos biológicos, especialmente cognitivos e comportamentais, que mais directamente se deixam compreender enquanto antecipatórios, mas a sua aplicação aos temas da evolução biocultural é território sumamente aberto e inexplorado. O ensaio vigente apresenta-nos um modelo conceptual do fenómeno da “ritualização de grupos” que caracteriza várias religiões (e não só). Noutras palavras, ele enquadra o estudo da ritualização de grupos no contexto da inferência activa, preparando, enquanto tal, tanto uma análise formal propriamente dita (que recorreria então à mecânica estatística da termodinâmica e à mecânica bayesiana, afins aos modelos clássicos de minimização dos erros de predição, de que é exemplo o trabalho de Karl J. Friston), como o estudo empírico pelas neurociências. Não obstante a ausência da evidência que poderia substanciar predições específicas emergentes deste enquadramento teórico, os autores fazem sobressair várias razões para ponderarmos seriamente este modelo conceptual.
Esperamos, pois, que a diversidade disciplinar, temática, e metodológica destas diferentes contribuições elucide a riqueza da evolução biocultural enquanto uma área de estudo que, apesar de prolífica, tem ainda baixa representação no panorama académico lusófono. Esperamos, também, que a presente colectânea estabeleça uma nova tradição no sentido de corrigir esta lacuna.
João Pinheiro
Assistente de Investigação Especial
Instituto da Filosofia da Academia das Ciências Chinesa
Editor Convidado
Referências
BARAVALLE, L. A função adaptativa da transmissão cultural. Scientiae Studia, 2012, 10 (2), p. 269-95.
BORGERHOFF MULDER, M. Human behavioural ecology. In: J. R. Krebs & N. B. Davies (Eds.). Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach. 3rd edition. Oxford, UK: Blackwell Scientific Publications, p. 69-98, 1991.
BOYD, R. & RICHERSON, P.J. Culture and the evolutionary process. University of Chicago Press, 1985.
BUCHANAN, A. & POWELL, R. The Evolution of Moral Progress: A Biocultural Theory. Oxford: Oxford University Press, 2018.
BUSKELL, A. What are cultural attractors? Biology and Philosophy, 2017, 32(3), p. 377-94.
CAMPBELL, D.T. Blind variation and selective retentions in creative thought as in other knowledge processes. Psychological Review, 1960, 67(6), p. 380-400.
CAVALLI-SFORZA, L.L. & FELDMAN, M. Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton University Press, 1981.
CHELLAPPOO, A. When can cultural selection explain adaptation?. Biology & Philosophy, 2022, 37, 2.
COSMIDES, L. & TOOBY, J. From evolution to behavior: Evolutionary psychology as the missing link. In: J. Dupré (Ed.). The latest on the best: Essays on evolution and optimality. The MIT Press, p. 276-306, 1987.
DARWIN, C. The descent of man, and Selection in relation to sex, Vol. 1. John Murray, 1871.
DAWKINS, R. The Selfish Gene. Oxford University Press, 1976.
DENNETT, D.C. Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life. National Book Foundation, 1995.
DRISCOLL, C. Sociobiology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. In: Edward N. Zalta (Ed.), 2022. URL = https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/sociobiology/
HAMILTON, W.D. The Genetical Evolution of Social Behaviour. I. Journal of Theoretical Biology, 1964a, 7(1), p. 1-16.
HAMILTON, W.D. The Genetical Evolution of Social Behaviour. II. Journal of Theoretical Biology, 1964b, 7(1), p. 17-52.
HENRICH, J. Culture and Development Policy. United Nations Development Report (2023-24): Reimagining Cooperation in a Polarized World, 2024.
HENRICH, J., BOYD, R. & RICHERSON, P.J. The puzzle of monogamous marriage. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2012, 367(1589), p. 657-69.
HODGSON, G.M. & KNUDSEN, T. Darwin's Conjecture: The Search for General Principles of Social and Economic Evolution. The University of Chicago Press, 2010.
HUXLEY, J. Evolution: The Modern Synthesis. George Allen & Unwin, 1942.
JOYCE, R. The evolution of morality. MIT Press, 2006.
KROEBER, A.L. Anthropology: race, language, culture, psychology and prehistory. New York: Brace, 1948.
LALAND, K.N. & Brown, G.R. Sense and Nonsense: Evolutionary Perspectives on Human Behaviour. Oxford University Press, 2002.
LEVY, A. & ALMADA, V.C. A Evolução do Comportamento Humano. In: Levy, A., Carrapiço, F., Abreu, H. & Pina, M. (Eds.). Homem: Origem e Evolução. Glaciar, p. 219-24, 2015.
MCKENZIE ALEXANDER, J. The Structural Evolution of Morality. New York: Cambridge University Press, 2007.
OKASHA, S. Cancer and the Levels of Selection. British Journal for the Philosophy of Science, 2024, 75(3), p. 537-60.
PISOR, A.C. & ROSS, C.T. Parochial altruism: What it is and why it varies. Evolution and Human Behavior, 2024, 45(1), p. 2-12.
PORTELA, F.L.A. & ABRANTES, P.C. Evolução da mente humana e evolução cultural. https://revistarosa.com/7/mente-humana-e-evolucao-cultural, Revista Rosa, S. Paulo/SP, Brasil, https://revistarosa.com, ISSN 2764-1333, 2023.
RAINEY, P.B., DESPRAT, N., DRISCOLL, W.W. & ZHANG, X.-X. Microbes are not bound by sociobiology: Response to Kümmerli and Ross-Gillespie (2013). Evolution, 2014, 68, p. 3344-55.
RICHERSON, P.J. & BOYD, R. Not by genes alone: How culture transformed human evolution. University of Chicago Press, 2005.
SCHIMMELPFENNIG, R. & MUTHUKRISHNA, M. Cultural Evolutionary Behavioural Science and Public Policy. Behavioural Public Policy, 2023, 1.31.
TRIVERS, R.L. The Evolution of Reciprocal Altruism. Quarterly Review of Biology, 1971, 46(1), p. 35-57.
WILSON, E.O. Sociobiology: The New Synthesis. Harvard University Press, 1975.
WILSON, D.S., MADHAVAN, G., GELFAND, M.J., HAYES, S.C., ATKINS, P.W.B. & COLWELL, R.R. Multi-level Cultural Evolution: From New Theory to Practical Applications. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(16), e2218222120.
1 Ao submeter trabalhos à revista ARARIPE, caso este seja aprovado, o autor autoriza sua publicação sem quaisquer ônus para a revista ou para seus editores.
2 Os direitos autorais dos artigos publicados na ARARIPE são do autor, com direitos de primeira publicação reservados para este periódico.
3 Fica resguardado ao autor o direito de republicar seu trabalho, do modo como lhe aprouver (em sites, blogs, repositórios, ou na forma de capítulos de livros), desde que em data posterior fazendo a referência à revista ARARIPE como publicação original.
4 A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores.
5 Os originais não serão devolvidos aos autores.
6 As opiniões emitidas pelos autores são de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
7 Ao submeterem seus trabalhos à ARARIPE os autores certificam que os mesmos são de autoria própria e inéditos, ou seja, não publicados anteriormente em qualquer meio digital ou impresso.
8 A revista ARARIPE adota a Política de Acesso Livre para os trabalhos publicados sendo sua publicação de acesso livre, pública e gratuita. Portanto, os autores ao submeterem seus trabalhos concordam que os mesmos são de uso gratuito sob a licença Creative Commons - Atribuição Não-comercial 4.0 Internacional.
9 O trabalho submetido poderá passar por algum software em busca de possíveis plágios para averiguar a autenticidade do material e, assim, assegurar a credibilidade das publicações da ARARIPE e do próprio autor diante da comunidade filosófica do país e do exterior.
10 Mas, apesar disto, após aprovação e publicação do artigo, for constatando qualquer ilegalidade, fraude, ou outra atitude que coloque em dúvida a lisura da publicação, em especial a prática de plágio, o trabalho estará automaticamente rejeitado.
11 Caso o trabalho já tenha sido publicado, será imediatamente retirado da base da revista ARARIPE, sendo proibida sua posterior citação vinculada a ela e, no número seguinte em que ocorreu a publicação, será comunicado o cancelamento da referida publicação. Em caso de deflagração do procedimento para a retratação do trabalho, os autores serão previamente informados, sendo-lhes garantidos o direito à ampla defesa.
12 Os dados pessoais fornecidos pelos autores serão utilizados exclusivamente para os serviços prestados por essa publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.